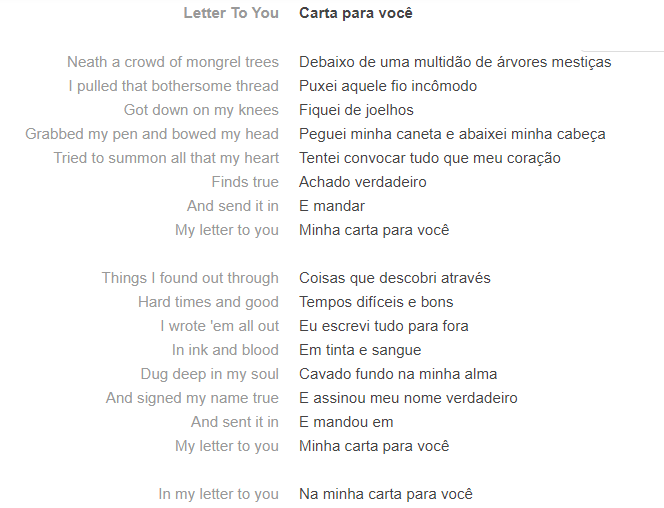Se fosse para resumir este post em uma frase, somente um “vá e veja!” seria suficiente.
É este o sentimento que Oeste Outra Vez, filme nacional de Erico Rassi, estrelado por Ângelo Antonio, Rodger Rogério e Babu Santana, me causou. Disponível no catálogo do Telecine para quem perdeu o privilégio de ver na tela grande, Oeste Outra Vez tem o potencial de agradar um distinto grupo de espectadores e de muitas formas diferentes.
O filme tem a genialidade de soar perfeito para um momento de entretenimento, o passar do tempo com qualidade e contentamento, de rir do ritual de sempre ter limão quando se bebe cachaça ou dos temidos e alardeados pistoleiros do agreste que não conseguem acertar o alvo de primeira nunca, o ritmo é leve e a sensação de não ver o filme passar é um grande elogio ao trabalho de Rassi. Além disso, a identificação de costumes, valores e locais tão brasileiros e enraizados na nossa cultura um filme de western norte americano nunca mostrará – é formidável ver os restaurantes de “beira de estrada”, os bares improvisados em casas nas cidades de interior e a resistência de comunidades em manter tradições sociais.
Somente isso faria do filme uma obrigatória indicação de 2h bem vividas, mas é através de sutilezas, da câmera que mais do que filme, contempla as excepcionais atuações e interações entre os personagens de Ângelo e Rodger que o filme se transforma numa belíssima obra de filosofia e sociologia contemporâneas. Temas como a aridez que os homens sustentam nas suas vidas e relacionamentos e como ele é frágil e está prestes a ruir em cada desabafo, o orgulho, o papel das mulheres na sociedade patriarcal e as consequências de uma vida sem propósito fazem que o filme não termine nos créditos finais, mas continue ressoando na nossa mente.
Vá e veja.