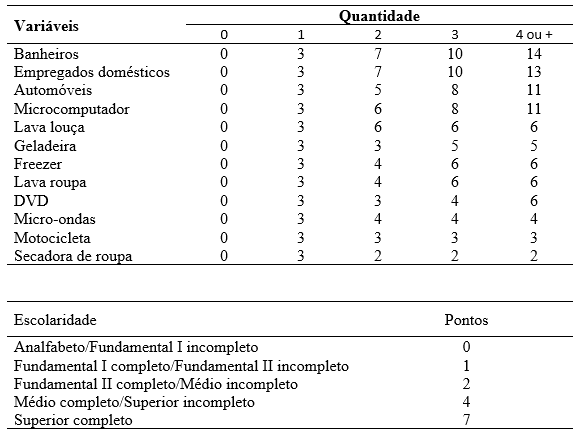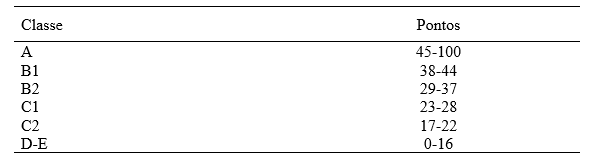Começar algo novo é o típico tema falado na maioria dos discursos motivacionais aos quais os algoritmos de redes sociais colocam sob holofotes. Mas a banalização do falar que “é importante fazer coisas novas” foca prioritariamente no resultado delas, do pragmatismo de que, com prática, um novo hábito será incorporará na nossa rotina, na nossa vida e ela ficará melhor. Treinar musculação é difícil, mas depois que acostuma tem seus benefícios ao corpo e mente. Correr é só começar e se nas primeiras vezes não for a 8ª maravilha do mundo, insista um pouco que a endorfina vem e tudo vira rotina. Cozinhar uma receita complexa é possível de forma rápida e descomplicada, basta aprender o método e ter alguma parafernália gourmet. Vida saudável, falar outras línguas, tarefas domésticas, rotinas empresariais…é assim na maioria dos discursos.
Porém, quando focamos muito em um motivo para agir (a motivação) ou em um propósito – que beira certa utopia muitas vezes – nos esquecemos de aproveitar o processo, a experiência única que é aprender, aperfeiçoar, errar. Aprender é entrar em contato com aquilo que não se sabe. Implica doses de vulnerabilidade, pois se quisermos aprender ficando na defensiva ou arrogância o resultado não virá conforme o esperado e o tempo investido parecerá sem sentido, reforçando crenças e negatividades. Embora este texto não seja uma apologia ao viver a vida sem rumo ou não ter motivo para fazer o que se faz, ele é um convite a prestar atenção quando estamos começando algo, aprendendo: o que funciona, o que não funciona e (mais importante) qual a minha régua para medir funcionalidade? Além disso, se descobrir nos seus erros, baixar a guarda e aceitar que até aquele momento você sabia muito pouco sobre.
*Texto originado a partir do aprendizado de fazer um bom iogurte natural caseiro.